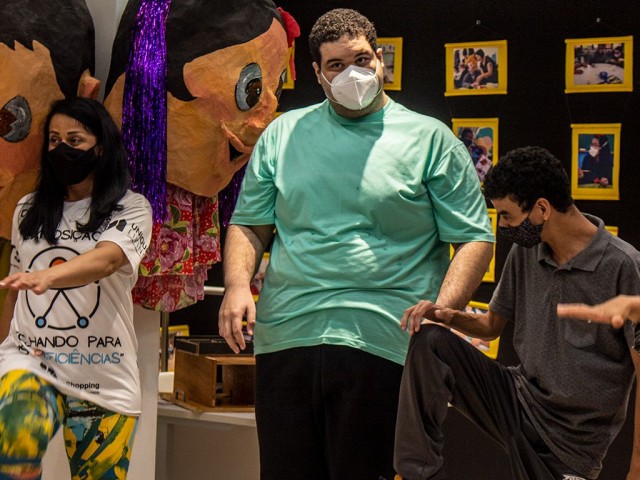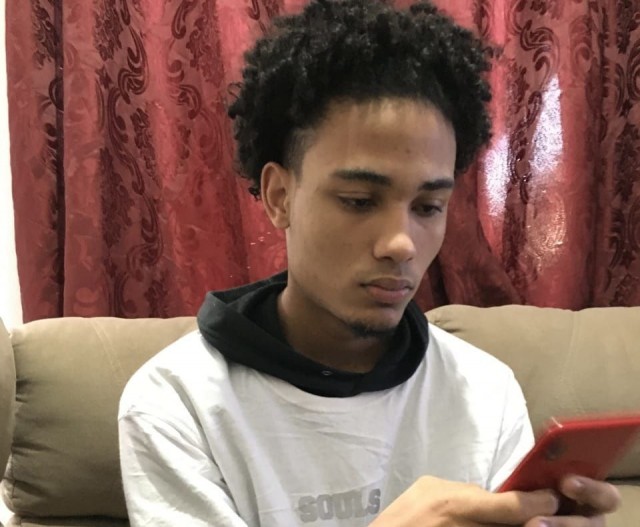Reciclando há muitos anos ou distantes desse processo, moradoras de Osasco refletem sobre a cultura da separação de materiais recicláveis, onde algumas aprenderam com a própria família e outras ainda tentam descobrir como colocar em prática dentro do território.
Sempre que lava a louça, Beatriz aproveita para lavar as embalagens recicláveis que utilizou durante o dia.
Com a realização da 26ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 26, em 2021, pautas sobre o meio ambiente foram discutidas no mundo inteiro, com grande destaque durante o evento. Nos territórios, o processo de coleta seletiva e separação de materiais recicláveis é um tema cotidiano, e para entender um pouco mais sobre essa cultura sustentável, o Desenrola conversou com Beatriz Gonçalves, que recicla desde pequena, e Ana Nunes, que não tem esse costume.
Beatriz Gonçalves, 23 anos, mora no bairro do Jardim D’Abril em Osasco, região metropolitana de São Paulo, e a separação de materiais recicláveis está presente em sua vida antes mesmo de seu nascimento. Tudo começou com o seu avô, Lafaete, 79 anos, que sempre gostou de se informar sobre educação ambiental e consumo consciente, devido ao trabalho que teve durante muitos anos: vendedor de livros autônomo.
Lafaete retirava os livros de distribuidoras, colocava todos em um fusca que tinha, e saia de sua casa em Santana de Parnaíba, para vender os livros de porta em porta em todas as cidades e estados que passava. O contato com a literatura o fez entender sobre a separação de materiais recicláveis e consumo consciente.
“Meu avô vendia livros indo até as casas, era muito antigamente. Eram sobre diversos assuntos [os livros] e ele sempre foi assim. Ele lê muito, ele gosta dessas coisas e eu acho que ele se informou por aí, […] ele sempre foi um homem bem informado, sempre com noções de consumo de água, reciclagem entre várias coisas”
conta Beatriz sobre seu avô.
Com esse conhecimento, Lafaete criou 6 filhos e passou suas vivências adiante. Principalmente para Simone, mãe de Beatriz. Mesmo o restante da família tendo o costume de separar apenas as latinhas, na casa dela, tudo é separado. “Minha mãe sempre reciclou para ajudar os catadores. Ela também estudou sobre o assunto tempos depois, quando ela voltou a estudar”, enfatiza Beatriz.
Dentro de casa, Beatriz, Simone e o padrasto, Luiz, mantêm a rotina de separação dos materiais recicláveis como algo natural. Devido a convivência com o avô e as conversas sobre sustentabilidade, reciclagem, consumo de carne e tudo que envolve impactos ambientais, Beatriz decidiu cursar Gestão Ambiental no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), para dar continuidade a tudo o que já vivia.
Separação dos materiais recicláveis
Durante um tempo, Simone fazia a separação de materiais recicláveis em casa, mas não levava em um Ecoponto (local público em que os cidadãos podem se desfazer de seus reciclados), ela apenas colocava na calçada para que quando o caminhão do lixo passasse, pudesse retirar.
Beatriz começou a estudar o assunto e percebeu que o caminhão de lixo convencional misturava o lixo reciclável e o não reciclável, e entendeu que elas precisariam mudar essa dinâmica e levar ao Ecoponto mais próximo da casa delas, localizado no bairro do Jaguaribe, em Osasco, pois na região onde moram não passa o caminhão da coleta de material reciclável.
“A gente achava que estava reciclando só separando o lixo, só que o correto é lavar a embalagem, secar e levar no Ecoponto. Porque o lixeiro vem, joga no caminhão e mistura tudo”
relata Beatriz.
Na primeira vez que usou o Ecoponto, foi informada pelos funcionários que ela não precisaria separar em sacos específicos, pois essa separação é feita no próprio espaço. Então, ela coloca tudo na mesa sacola, e separa apenas o vidro, pois pode cortar a mão de quem está em contato com o material.
“Ao lavar a louça eu lavo também a embalagem de produtos que já usei. Coloco para secar e coloco no saco de lixo. Eu consigo manter o saco dos recicláveis em casa por até 3 meses, depois levo no Ecoponto mais próximo da minha casa” explica Beatriz, sobre o processo que realiza para a separação dos materiais.
As embalagens recicláveis escorrem junto com as louças, depois de totalmente secas, Beatriz coloca em um saco para levar no Ecoponto.
As outras tias de Beatriz, não seguiram os passos de consumo consciente do avô Lafaete como ela e a mãe. E fora do seu núcleo familiar, a estudante conhece apenas mais dois amigos que fazem a separação de materiais recicláveis. O que para ela deveria ser regra, na verdade é exceção.
“Eu fui pesquisando sobre sustentabilidade e optei por ter uma vida mais minimalista e fazer a separação correta do lixo. […] O ser humano, ele se coloca acima como um ser superior, mas ele faz parte da natureza, cuidar da natureza é por sobrevivência também”
expõe Beatriz.
Na visão de Beatriz, que está envolvida na causa ambiental, ainda é muito difícil seguir com essa educação no município, por isso ela tomou a iniciativa de tentar mudar esse processo dentro de casa, procurando algum lugar para levar o seu lixo: “A gente não tem um apoio mais efetivo para reciclar. Não tem incentivo”, lamenta.
Osasco Recicla
Atualmente, a cidade de Osasco conta com 7 ecopontos, em que as pessoas podem levar tanto materiais recicláveis de consumo doméstico, quanto resíduos de construção civil, móveis e eletrodomésticos. Os ecopontos ficam localizados nos bairros: Jardim Mutinga, Novo Osasco, Jaguaribe, Helena Maria, Adalgisa, Bandeiras e Munhoz Júnior.
A cidade, também conta com cerca de 250 PEV’s (Pontos de Entrega Voluntária) espalhados, que estão instalados em parques e equipamentos públicos, em que cidadãos podem descartar seus próprios resíduos recicláveis, como garrafas plásticas, latas de alumínio, papelões, entre outros.
Além dessas duas formas de reciclagem, compõem o programa Osasco Recicla, a coleta porta a porta, em que um caminhão recolhe os materiais recicláveis uma vez por semana, nos domicílios onde foi implantada a coleta seletiva. Esse serviço cobre apenas 19 bairros, cerca de 30% da cidade.
Segundo Jair Ribeiro, gerente responsável pela Secretaria de Obras de Osasco, que cuida de toda a limpeza urbana da cidade, estava planejado que a coleta crescesse para outras regiões, mas entre 2020 e 2021, a pandemia da covid-19 impediu esse processo.
“Depende das ruas, tem algumas ruas que são contempladas por esse serviço, não são todas não. Na zona norte é um pouco mais difícil, mas na zona sul tem bastante”
afirma Jair Ribeiro.
Ele conta o que acontece com o material depois que ele é coletado pelos caminhões da EcoOsasco, empresa contratada pela prefeitura. “Todo esse material coletado vai para as três cooperativas [da cidade]. É um programa que nós temos chamado “Osasco recicla”, onde há a inclusão dos catadores. São três cooperativas que recolhem esse material, preparam ele, separam, vendem o material, e a arrecadação é repartida entre eles”, diz.
Mesmo morando nos bairros contemplados pela coleta seletiva porta a porta, Karen Kumagai de Presidente Altino, Jessica Rodrigues do Jardim Roberto, Patrick França da Cidade das Flores e Eduardo Lopes do Rochdale, relatam que nunca viram o caminhão, ou ficaram sabendo desse serviço.
Questionado pela nossa reportagem, Jair explica que a divulgação do serviço não é midiática, é feita de casa em casa. “A divulgação é feita porta a porta em cada casa, levando panfletos e conversando com as donas de casa. Se a gente faz uma divulgação ampla, os outros bairros querem também e você não consegue fazer. É preciso fazer bairro a bairro esse trabalho de educação ambiental”, relata Jair.
Jair afirma que o critério utilizado para fazer o mapeamento da coleta porta a porta, é geográfico, levando em consideração bairros mais próximos das cooperativas por conta da logística do caminhão, e também vai de acordo com as demandas da população.
“Por exemplo, se existe uma demanda muito grande aqui no Vila Yara e Adalgisa que quer a coleta seletiva, o pessoal começa a ligar para nós e pedir. Então as vezes fica mais fácil você implantar onde as pessoas já querem”, diz Jair.
Ana Nunes, 20 anos, moradora do bairro do Jaguaribe, em Osasco, mora com os pais e eles não têm o costume de separar o material para reciclagem. Para ela, um grande empecilho para a não realização desse processo, é a ausência do sistema porta a porta em seu bairro.
“Se fosse um caminhão que passasse igual o caminhão do lixo normal, ia ser muito mais fácil a gente separar em sacos diferentes”
expressa Ana.
Ela relata que um de seus maiores empecilhos para começar com a cultura dentro de casa, é a falta de tempo. Trabalhando e estudando, ela conta que chega muito cansada em casa, e não tem tanto tempo para separar o material e depois se deslocar até um Ecoponto ou PEV mais próximo.
Um dos Ecopontos da cidade, fica localizado no bairro de Ana, mas ela nunca soube dessa informação.
“A gente nunca ficou sabendo se existe algum posto perto de casa, eu sempre ando pela região e nunca vi posto de coleta e olha que a gente tem vários grupos da rua e ninguém fala nada que tem isso”
diz Ana.
Dentro de casa, sua família não tem o costume de separar todas as embalagens que utilizam, mas Ana vê desde pequena o pai Sidnei Roberto, 56 anos, separar e vender latinhas. É uma cultura que ele mantém há mais de 30 anos, sendo que depois de separar, ele não leva até nenhum Ecoponto, o pai vende o material e a renda extra ajuda com as contas.
Sidnei guarda as latinhas em uma sacola, e vende quando já juntou uma boa quantidade.
Para ela, uma divulgação mais efetiva desses Ecopontos seria anunciar nos pontos mais movimentados da região, como igrejas, mercados e portas de bancos, pois sem divulgação é muito difícil saber que esse serviço está disponível. “No dia a dia a gente não passa em todas as ruas pra ver se tem alguma coisa”, coloca Ana.
Além de não saber da existência do Ecoponto, para ela o processo para separar o lixo, também não é divulgado e detalhado para a população. “Eu não sei qual é o processo, o que acontece, o que tem que fazer, não é falando em todos os lugares”, diz.
Ação territorial, para um impacto global
Mesmo sem realizar a separação de materiais dentro de casa, Ana compreende que é um processo importante e primordial:
“Muito bom pro meio ambiente porque eu quero viver muitos anos ainda, e eu quero que meus filhos vivam, e do jeito que está não sei se vai dar. A gente fica vendo tanta coisa ambiental acontecer que a gente podia mudar o simples que é separar o lixo, coisas que estão ao nosso alcance”
enfatiza Ana.
Carlos Marx, 75 anos, foi Secretário do Meio Ambiente da cidade de Osasco por 12 anos e integra o coletivo “Casaviva”, que atua diretamente na conscientização cultural e ambiental na cidade.
“Em 2017, eu e um grupo de amigos do movimento cultural e ambiental de Osasco, decidimos criar um coletivo para trabalharmos em conjunto na área ambiental e cultural realizando cursos, atividades, eventos, comunicação na parte de conscientização e educação ambiental”, conta Carlos.
Desde então, ele e mais 8 ativistas: Samantha Alves, Fábio Maganha, Manoel Gurgel, Dorgival Nazaro, Maristela Leamare, Gênesis Nazaro, Larissa Alves e Rosi Cheque, atuam de forma voluntária na cidade, com a proposta de promover a educação ambiental e conscientizar a população osasquense. Para Carlos, a arte é uma importante ferramenta para fazer educação ambiental.
“Você não faz conscientização ambiental só fazendo discurso e dando aula. Uma ação cultural, um evento, um show, um ato no calçadão… às vezes atinge e sensibiliza muito mais gente que você fazer essa educação ambiental formal”
explica sobre a dinâmica de atuação do coletivo.
Ação realizada antes da pandemia pelo coletivo Casa Viva, no Dia Mundial da Limpeza. Foto: Divulgação/ Casa Viva
Além da organização de ações e eventos, o coletivo atua na divulgação dos bairros que fazem coleta seletiva porta a porta, ajudando a informar as pessoas a separarem os materiais recicláveis em casa e colocarem na lixeira no dia da coleta, ou até mesmo para os catadores pegarem.
O contato também se estende por igrejas, condomínios e escolas do ensino médio, e ensino fundamental a partir da 5ª série. Com atividades, filmes e palestras envolvendo a educação ambiental.
“Nós entendemos que a tarefa de preservar o meio ambiente é uma tarefa de todo mundo. É uma obrigação do poder público mas também do cidadão consciente. O cidadão tem que ter consciência que ele tem que saber dar a destinação para os resíduos que ele produz, se não o meio ambiente não vai ter recuperação ambiental”
exprime Carlos.
Ativista há muitos anos, Carlos percebe que atualmente, as pessoas estão bem mais engajadas e informadas sobre a importância da preservação da natureza do que em anos anteriores, principalmente a juventude, que recebe informações de multiplataformas e repassa para os pais.
Essa mudança de hábito é o que o coletivo caminha para atingir, informando as pessoas que a preservação do meio ambiente não passa de uma ação coletiva e local.
“A ação local agora ganhou uma expressão muito grande. A pessoa não vai conseguir sair daqui de Osasco e ir lá na Amazônia impedir que ponham fogo e derrubem as árvores. A gente tem que ter compromisso que aquilo está errado, cobrar das autoridades, e fazer a nossa parte aqui”
considera Carlos.