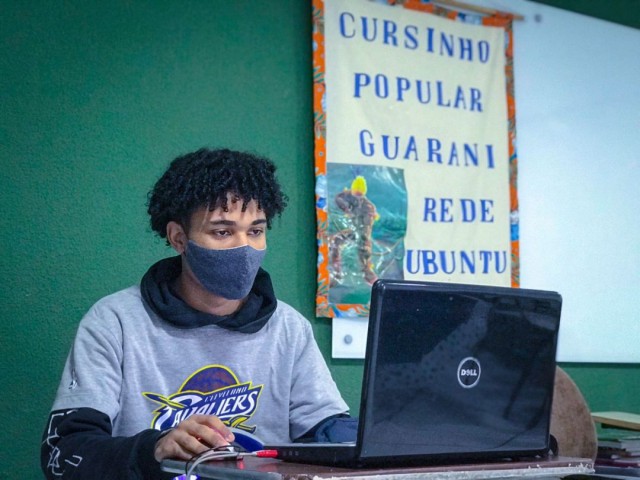A compra dos alimentos é feita pelo app com preços competitivos em relação aos mercados da quebrada, e a retirada dos produtos é feita posteriormente na casa de vizinhos credenciados como pontos de distribuição. Entenda essa nova forma de consumo nas periferias e favelas de São Paulo.
“Quando vi o aplicativo eu já gostei por causa dos valores, as coisas eram muito baratas”, conta Elvira Campos, 58, moradora do Jardim Kagohara, bairro da zona sul de São Paulo, que está usando o aplicativo Facily, solução de social commerce que incentiva os usuários a realizar compras coletivas de diversos produtos, entre eles estão itens de alimentação.
Através da criação de grupos formados por consumidores, que em sua maioria são mulheres que fazem a gestão financeira da casa, o app apresenta ofertas de produtos que chamam a atenção das usuárias, que frequentam o supermercado diariamente e conseguem fazer uma boa avaliação dos preços.
Outra moradora que tem usado o aplicativo por causa dos preços baixos em relação aos supermercados é Giovanna Alves, 20, vizinha da dona Elvira. Ela relata que economizou mais de 100% nas suas últimas compras no app.
“Eu lembro do sabão em pó que a gente comprou ele era de 500 gramas, e no mercado custa em média de sete a oito reais, e lá no aplicativo eu consegui comprar ele por 1,99”
Giovanna Alves é moradora do Jardim Kagohara, bairro da zona sul de São Paulo.
Em meio a alta da inflação que afeta diretamente os preços de produtos da cesta básica, a dona Elvira aproveita o Facily para economizar na compra de itens como arroz, leite e óleo.
“Eu lembro do sabão em pó que a gente comprou ele era de 500 gramas, e no mercado custa em média de sete a oito reais, e lá no aplicativo eu consegui comprar ele por 1,99. Nessa compra eu vi o preço do ovo também, pois agora o ovo está mais caro, e lá no Facily eu encontrei 30 ovos por 10 reais, só que eu fiquei com medo de comprar e estragar ou quebrar”, conta Giovanna.
Em meio à crise econômica que afeta muitos moradores das periferias, a jovem destaca que o app está ajudando muitas pessoas que não conseguem fazer compras no supermercado.
“Tem muitas pessoas que compra pelo aplicativo que não consegue ter a oportunidade de comprar em mercado normal pelo valor, então é muito bom para as pessoas que são mais necessitadas, que não consegue fazer a compra do mês e não recebe um salário inteiro no final do mês”, pontua.
Compra e entrega de produtos
A única ponderação que ela faz em relação ao aplicativo é em relação a dificuldade para realizar os processos de compra e os pontos de distribuição que ainda precisam aumentar na quebrada.
“Como ele não é tão objetivo não é tão fácil usas, acho que umas pessoas que não sabe mexer com tecnologia não consegue comprar. E o fato de não ter muitos pontos de entrega também dificulta bastante se a pessoa tem dificuldade de se locomover”, avalia a usuária do app.
Embora os valores sejam bem atrativos, a dona Elvira que tem um ponto de distribuição concorda com Giovanna e conta que a entrega dos itens comprados ainda é um ponto a ser melhorado pelo app de compras coletivas.
“O ponto de entrega era aqui perto de casa, mas a mulher responsável pelo ponto desistiu, por isso eu quis pegar para mim. Eu falei: bom já que ela saiu, vou ver se eu coloco, já que minha casa é um ponto de entrega, meus produtos vêm para cá mesmo”, explica.
“A entrega não é rápida, para chegar no ponto tem produtos que levam de 15 a 30 dias”
Elvira Campos, 58, possui um ponto de entrega de produtos do aplicativo Facily.
A moradora foi estratégica ao tomar a decisão de transformar a sua casa em um ponto de distribuição, no entanto, ela conta que vem lidando com problemas em relação a demora para a entrega dos produtos.
“A entrega não é rápida, para chegar no ponto tem produtos que levam de 15 a 30 dias, mesmo assim compensa”, afirma ela, apontando que uma alternativa para essa questão do tempo de entrega é comprar uma coisa que não esteja precisando no momento. “Você sabe que vai demorar, mas que vai chegar”, complementa.
Por dia, Elvira recebe em sua casa de dois a três pedidos fruto de compras realizadas no app, porém ainda não considera que o aplicativo visa beneficiar os moradores que disponibilizam as suas casas para fazer esse trabalho de distribuição no bairro.
“Ser um ponto de entrega não tem muita vantagem, é só para ser um ponto de entrega mesmo, para entregar pro povo, mas não tem vantagem nenhuma na verdade, mas para mim que compra os produtos fica mais fácil”, enfatiza.
As comissões pelas entregas também desagradam a Elvira. “A gente não recebe desconto não, o que você compra é o que você paga, a gente ganha por entrega, cada entrega que eu faço eu ganho, mas é 10 centavos, 3 centavos, depende da entrega, o valor maior é 1 real, então é muito pouco o valor”, relata a moradora.
Mesmo com essas desvantagens que o aplicativo oferece, para pessoas que querem contribuir com a logística do aplicativo de compartilhamento de compras coletivas, Elvira enfatiza que a ideia de economia em produtos é muito vantajosa, principalmente por causa dos preços abusivos nos supermercados da quebrada.
“Os ponto de entrega é muito bom porque tem a agilidade de receber na porta de casa o produto que você compra, aí as pessoas vem aqui pegar o produto que elas compraram pelo aplicativo, que tem chegado aqui, estão elogiando o ponto de entrega, falando que é muito bom, que o atendimento é muito bom, ai todo mundo tá gostando, ai chega o produto e já lanço, ai as pessoas ficam sabendo que o produto chegou e já vem logo buscar, então é bem prático”, argumenta ela, fazendo um contraponto entre os outros fatores negativos do app.
Direito do consumidor
Segundo dados do Procon, as reclamações sobre a empresa criadora do app Facily aumentaram de maneira expressiva em 2021. No primeiro semestre de 2020 foram registradas cinco reclamações, mas no primeiro semestre deste ano o número subiu para mais de 11 mil reclamações.
Esse dado pode ser interpretado de muitas maneiras, mas o que a nossa reportagem identificou de fato foi que uma grande parcela de moradores das periferias e favelas estão recorrendo a este formato de compra coletiva, porque não é mais possível fazer a compra mensal nos supermercados.
“Eu comprei umas coisas pro Facily, as primeiras compras demoraram chegar, até cancelei e pedi estorno, e a segunda teve umas que cancelaram, por eles mesmo, agora fiz outro pedido, mas veio faltando produtos, eu pedi seis cremes de leite e só veio três”, relata Edinete Ferreira, moradora do bairro Parque Santo Amaro, na zona sul de São Paulo.
A experiência de Edinete com compras problemáticas no aplicativo e a demora para a entrega dos produtos incomodam a usuária, assim como foi relatado pela dona Elvira e pela jovem Giovanna, mas como o fato da economia de dinheiro tem pesado na gestão das compras de casa, ela acredita que compensa usar o app. “Tirando a demora, a principal vantagem é que as coisas são mais econômicas”, conclui.