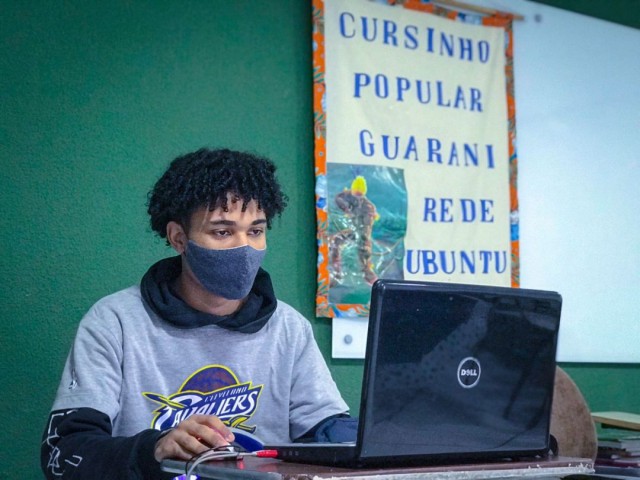Estamos em outubro, tudo nesse mês me leva a pensar em educação. Mesmo quando penso em crianças, penso que passamos o maior período da infância na escola, como esse momento é divisor de águas na nossa trajetória de aprendizado e conhecimento do mundo.
Na escola, eu me tornei a Bela, mesmo não tendo um nome duplo, a pronúncia, mesmo na escola, supera qualquer regra de escrita. Bela não é um apelido fácil de se carregar na infância pelo peso semântico e histórico que essa palavra tem, pois, ou você é Bela, ou você é piada.
Em uma escola completamente misógina, existe um comportamento esperado das meninas, essas experiências se tornam um grande complexo, pois, na escola também aprendemos sobre os padrões de beleza e suas cargas. Quando a escola não trata do convívio, de suas identidades e relações, essas questões sociais parecem questões pessoais, que não tem relação com política, cultura, geografia e história.
Sentimos um desligamento constante entre o conhecimento transmitido e nossa vida cotidiana, repleta de desafios e contradições presentes na formação de um ser humano.
Contudo, é importante considerar, que entre esse desligamento, entre o conhecimento e a prática, sempre havia aquele professor que fazia uma ponte entre a realidade e o conceito, ali atento, entregava um livro, fazia uma fala ou simplesmente apoiava uma iniciativa. Esses professores foram minha inspiração.
Eu, como menina periférica, estive amplamente tutelada pelo Estado, estive em creches e outros espaços de formação, como Centro de Juventude, onde experimentei um tipo de educação mais livre e artística. Este, também me trouxe um outro modelo de educação, que primeiro avaliei como se não fosse, pois era completamente diferente da escola. Porém, é fato que o misto entre educação formal e informal fizeram de mim, a educadora que me tornei.
Entre a escola e o Centro de Juventude, conheci o professor Ralf Rickli, que desenvolveu em seus estudos a Filosofia e Pedagogia do Convívio, uma quilha, que era nomeada como Trópis, (palavra grega que designa Quilha – coluna vertebral em torno, do qual, um barco é construído e que, configurava em seu trabalho a base, fundamento, e sentido para onde cada coisa vai).
Ralf Rickli construiu em nosso bairro um Rizoma, para jovens que moravam no Jardim Monte Azul, e bairros vizinhos, para que desenvolvêssemos nossas potencialidades. Criar uma pedagogia não fazia parte do nosso mundo, imagina viver uma pedagogia criada pelo seu professor, isso foi transformador.
Nossa formação se dava no cotidiano, na mesa do café, descobrindo que o sal já foi moeda de troca, ouvindo discos de Chico Buarque e descobrindo sobre a ditadura militar, em rodas de conversa e troca chamadas de O.C.A – Oficina de Conhecimento e Arte. Foi o melhor momento educacional e criativo da minha vida.
Conhecer um professor que sonha com o reencantamento do mundo e imprime no mundo essa prática fez de mim uma mulher que acredita na transformação pela educação.
Em 1995, eu já era educadora pela Educação Convivial, através desta, estabeleci um método que, mais tarde, se fundiu com a Educação Popular, filosofia organizada por Paulo Freire, que valoriza os saberes prévios que trazemos, nossas realidades culturais, estabelecendo assim um olhar crítico que facilita o desenvolvimento educativo e humano.
Com Ralf Rickli e Paulo Freire, aprendi sobre responsabilidade política do educador, e sobre horizontalidade com o educando, para que fosse possível a construção do conhecimento.
Muita gente chama o que Paulo Freire escreveu de método, entretanto, eu nomeio como Filosofia Pedagógica, assim como a educação pelo convívio do Professor Ralf Rickli.
O que é proposto por esses professores é o reconhecimento do ser, a partir do que ele já é, não do que pode se tornar ao conhecer. Nesse sentido, conhecimento deve fazer ponte com sua história, com o meio em que pertence, com seu gênero, raça e classe.
Isso só se consegue com escuta, análise e respeito, esta é práxis, (reflexão e ação, atividade prática em relação a teoria), utilizada constantemente por Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, práxis libertadora, práxis autêntica, práxis revolucionária e a práxis verdadeira.
Allan da Rosa, escritor, poeta, historiador e Doutor em educação pela USP, retoma para mim esses conceitos em seu livro, Pedagoginga, Autonomia e Mocambagem, de 2013, quando traz nessa obra o movimento de educação popular periférico que reivindica a cultura de matriz africana nos processos educativos e concilia teoria e ação a partir das experiências vividas na quebrada.
Acredito que todo conhecimento deve ser criticado, como feminista não esqueço dos traços sexistas das obras de Freire. Bell Hooks, professora estadunidense, em seu livro Ensinando a Transgredir, dedica um capítulo a obra de Paulo Freire, sua práxis, e critica seu sexismo.
Hooks contribuiu para a retirada da linguagem sexista de suas ultimas obras sem auterar sua importância, porém, incluindo a demanda feminista dos anos 90, em um livro escrito nos anos 70. O tempo e a cultura mudam nossas práticas e o conhecimento revela novos paradigmas, precisamos estar atentos, todo tempo contém uma história.
A práxis revolucionária somente pode opor-se à práxis das elites dominadoras. E é natural que assim seja, pois são fazeres antagônicos.
Freire, 2013,p.169
Segundo Freire, não há ninguém mais qualificado para qualificar a opressão, do que nós, os oprimidos, quem mais pode encontrar estratégias de libertação. Seria infantil de nossa parte achar que quem lucra com os nossos devaneios de consumo, com nossa falta de direitos, pode trazer uma resposta. Sendo assim, a autêntica libertação não é uma coisa que se deposita nas pessoas, mas uma ação e reflexão sobre o mundo para transformar sua realidade.
(…)Depois de um tempo indeciso, escolhi começar a obra pela parte “teorica”, a que reflete sobre elementos fundamentais de nossa cultura, de nosso convívio e criação, mas poderia muito bem ter iniciado o trabalho pela segunda parte, a da prática matutada.
(Rosa, Alan,2013 p.15)
Educar para a prática da liberdade exige matar o colonizador que existe dentro de mim, exige estudos contínuos, convívio, envolvimento, organização e desapego da armadilha de ensinar algo, e trazer com sigo ferramentas – conceitos, textos, práticas, capazes de promover a reflexão e a catarse diante da vida vivida. Estranhar a vida, estranhar o cotidiano, a forma em que as coisas estão, essa é a educação que eu acredito e pratico.
Eu quero comemorar a existência da práxis revolucionária educacional que resiste, eu saúdo Paulo Freire, Ralf Rickli e Allan da Rosa que escrevem horizontes possíveis.
(…)Imagine o quanto seria mais fácil para nós aprendermos como amar, se começássemos com uma definição compartilhada.
Bell Hooks, 2021