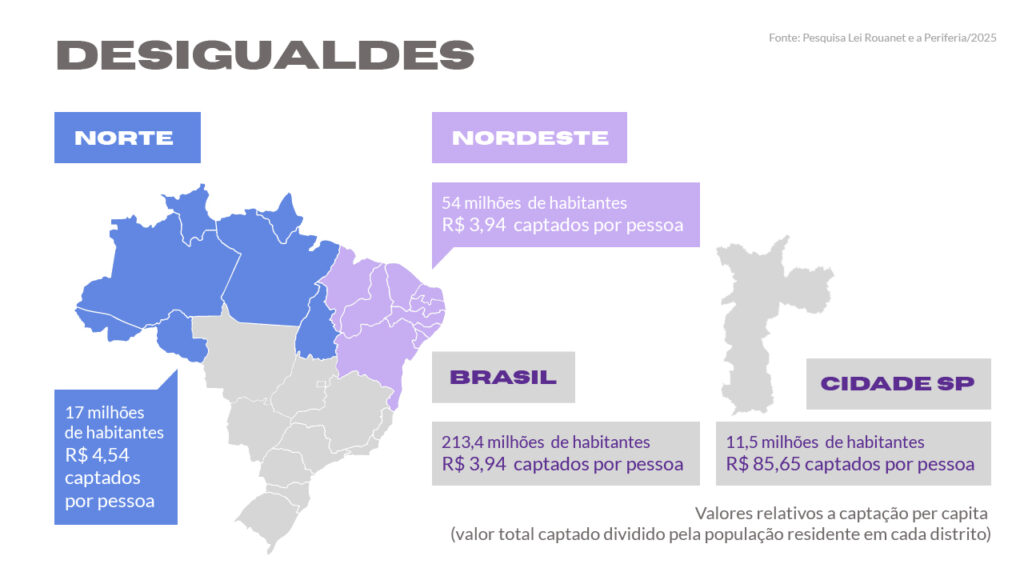Oprê! Salve amigles, faz tempo, né? Estou aqui para tentar arranhar (ou manchar) as certezas do progresso, deixando aqui as minhas dúvidas de pobre preto e periférico. Trago aqui um tema grande, que eu não ouso esgotar, e para o qual quero olhar a partir de uma perspectiva cultural contra-colonial.
Eu sou um usuário ativo de tecnologia, mas preciso escrever que o que eu vejo crescendo por aí é roubo colonial travestido de novidade. Na prática, há uma sofisticação do capitalismo para a tragédia de uma maioria pobre e não-branca das periferias do mundo.
O que segue nos parágrafos seguintes pode parecer uma grande salada de confusão, e é isso mesmo. Estou confuso também. Talvez eu seja mais uma vítima da infodemia na rede mundial de internet.
Acho interessante descrever como me ocorreu escrever isso aqui. Eu estava no mercado, depois de correr pela quebrada e fazer meus exercícios. Fui comprar umas paradas para fazer uma canjica, adoro comer canjica no frio. Chegando no caixa do mercado para pagar, vejo que no local onde na semana anterior haviam cerca de oito funcionárias, tinham só duas. O restante dos espaços foram preenchidos por máquinas de autoatendimento.
Bem, quem já me leu por aqui já deve saber, mas não custa lembrar: eu sou socialista, pan-afrikano, preto e periférico.
De cara me ocorreu perguntar para algumas funcionárias, enquanto apontava para as máquinas: “Você não tem medo de perder seu trampo por causa disso não?”. As respostas me deixaram um tanto preocupado. Uma disse: “Para quem quer ser mandada embora isso é ótimo!”. Outra justificou: “Tem muita gente que falta bastante, daí o mercado resolveu testar”. Uma outra ainda afirmou: “Não tem volta. É o futuro”.
As falas e a atmosfera meio que ecoaram algo que a gente vive ouvindo por aí: “Não dá para voltar para trás”, “não se pode evitar o futuro”, “é a inovação”, “é preciso otimizar o trabalho” e outros blá blá blá, que diga-se aqui são discursos derivados de propagandas que não foram criadas por pessoas pobres e periféricas do Sul Global.
Essas são pseudo-verdades repetidas para vender na nossa sociedade que esse é o ÚNICO progresso possível. Essa propaganda é gringa, burguesa e brankkka – geralmente bilionária.
Voltei para casa e me peguei lembrando da Tereza, minha professora de História e da Sigrid, minha professora de Geografia. Lembro que as duas me influenciaram MUITO a ler um livro que foi importante na minha formação como pessoa: A invasão cultural Norte-Americana, de Júlia Falivene Alves.
Um livro que detalha como a cultura estadunidense era nos anos 90, vendida como se fosse um avanço, a modernidade, e como essa venda de ideal era uma armadilha para nos colonizar culturalmente.
E porque lembro desse livro? Acho que mesmo estando agora numa era de hiperinformação, temos pouco incentivo a optar por uma contranarrativa de defesa efetiva contra uma visão colonial. Nisso temos sido influenciades, cada vez mais, pelo pensamento estadunidense, colonial, que tende a vender que tudo que vem de fora é melhor. Não considerando a realidade local e nossas diferentes necessidades ou potencialidades em nosso território.
Este livro citado, foi escrito no contexto da guerra fria dos anos 90, período em que Estados Unidos e Rússia disputavam a hegemonia bélica no mundo. Esse livro era uma das contra narrativas possíveis naquele tempo. Uma das que tive acesso nos anos 90.
Hoje a disputa global é outra e tem novos protagonistas. Além de poder militar, as maiores potências disputam poder de influência cultural e algo ainda mais valioso: o acesso aos nossos dados nas redes.
Voltando do mercado, pensava alto: Onde essas pessoas irão trabalhar? Como irão comer? Quais contra narrativas possíveis hoje? Spoiler: não tenho todas as respostas e você pode colaborar comentando esse texto. Agradeço!
Ao meu ver há dois sensos comuns no “Brasil” (sempre entre aspas), que nos deixam muito vulneráveis a influências externas. A primeira, é a Lei de Gerson, uma forma de agir tirando vantagem de tudo, que foi incutida na mente do povo “brasileiro” através da publicidade de uma marca de cigarros lá na década de 70. Essa forma de pensar, fez e faz com que muitas pessoas no “Brasil” queiram até hoje tirar o máximo de vantagens das situações do cotidiano, mesmo que isso seja desonesto, ou no fim, prejudicial à coletividade.
Outro senso comum da “brasilidade” é o do complexo de “vira-lata”, que é o rebaixamento das pessoas daqui ao acharem que as melhores soluções tecnológicas vêm de fora do país, geralmente da Europa ou dos Estados Unidos. Partindo dessa lógica de rebaixamento, o que vem de fora é sempre melhor, superior, mais tecnológico, sendo um progresso “inevitável” e “desejável”, ainda mais num mundo globalizado como é hoje.
Esses dois sensos comuns têm sido articulados pela extrema direita sobre as cabeças dos povos do chamado “terceiro mundo” (nós), e infelizmente essas duas visões de mundo são comuns e são difundidas e impulsionadas na mídia e nas redes sociais todos os dias.
Minha tese aqui é que essas duas paradas se articulam muito na cultural local do Brasil atual numa intensidade tanta, que mesmo entre as pessoas diretamente prejudicadas, há quem enxergue uma falsa praticidade na automação, na plataformização e nessa modernização desenfreada. Como se esses fenômenos fossem conjuntamente o anúncio de um único futuro possível, mesmo que, para isso, estejam perdendo empregos e entregando todos seus dados digitais aos países ricos do globo.
Cedemos diariamente dados nas redes sociais, nos métodos de pagamento, nos streamings de vídeo, em todos cadastros feitos na internet, quando usamos ferramentas de inteligência artificial.
Essa tem sido uma forma cotidiana das pessoas das periferias do mundo serem colonizadas, roubadas e extorquidas novamente, só que a distância, via internet banda larga e pagando por isso – logo, pagando duas vezes.
Afinal, pensem comigo: Quem são as detentoras das tecnologias de automação e plataformas digitais e seus respectivos bancos de dados? São grandes empresas, geralmente do Norte global, que fazem a gestão dos bancos de dados e de toda informação que transita nesses serviços de pagamento automatizado e nos apps que usamos diariamente sem pensar nos efeitos colaterais coletivos.
Deixo dúvidas aqui: Para que e a quem servem esses acúmulos de dados? Quem tem hegemonia sobre eles? Quem afinal lucra? São muitas perguntas e respostas possíveis, mas o dinheiro, no final, vai para fora do nosso país. Por fim, a “vantagem” é de quem coloniza. Sempre. A globalização faz e fez bem às chamadas “potências mundiais”, não a nós que somos parte da periferia do mundo.
Dado importante, as principais empresas de banco de dados no Brasil atuam com tecnologias da Oracle (EUA), Microsoft (EUA) e MySQL (vendida à Oracle em 2010). No caso das redes sociais, a META lidera (também dos EUA e responsável pelo Instagram e WhatsApp).
Resumo: fomos colônia de Portugal na nossa “fundação” e atualmente somos colônia digital dos Estados Unidos. Por isso a resistência da extrema direita mundial a regulamentação das redes sociais e internet.
A digitalização de vários aspectos da vida cotidiana, que foi alardeada nos anos 2000 como sendo liberdade e modernidade, hoje visa apenas o lucro bilionário de poucos e a exploração de bilhões de pessoas. Sobretudo pessoas que vivem nas periferias do mundo, pessoas que não tem acesso a alta-tecnologia sendo agentes ativos e conscientes, mas sim sendo fonte, cobaia de experimentos sociais complexos que produzem escassez de trabalhos, solidão e uma crescente onda de problemas na saúde mental coletiva.
Essa extrema digitalização não gera prosperidade, segue portanto projetando um cenário de crise no senso de coletividade e por isso vem causando diminuição crítica da capacidade de articulação coletiva.
Pense, por exemplo, em como ficamos presos sozinhes em timelines infinitas e em como os algoritmos nos manipulam para cairmos em eternas propagandas de produtos inúteis ou de cursos fúteis e de baixa profundidade.
Outro dado importante: o Brasil é o terceiro maior em acesso a redes sociais no mundo. Pense bem, esse não é um método cruel de desarticulação dos pobres e oprimidos de sempre, nós?
Não é à toa que as lideranças das grandes empresas de tecnologia estadunidenses, as chamadas big techs, estavam e estão ao lado do presidente imperialista Donald Trump. Não à toa também que a maioria desses líderes são homens brankkkos bilionários.
Se no contexto da guerra fria (anos 90), a briga entre Estados Unidos e Rússia era pela hegemonia global baseada em poderio cultural e militar, hoje, Estados Unidos e China disputam a hegemonia sobre matérias-primas minerais, essenciais para produtos tecnológicos, e uma hegemonia cultural e digital. Essa disputa chega nos fundões da periferia diariamente, através das redes sociais, aplicativos, serviços digitais e também das novas inteligências artificiais generativas.
Lembre por aí, nos últimos meses, quantas foram as tecnologias de inteligência artificial sendo divulgadas nas suas redes sociais, em links patrocinados ou em vídeos virais, como forma de tornar esse “futuro” mais atraente para você. Do filtro para transformar suas fotos em desenho animado, passando por vídeos gerados por IA, chegando até a criação de músicas e memes diversos.
As grandes empresas de tecnologia dos bilionários, lembrando, geralmente ricos e brankkkos, cedem acessos “gratuitos” para que cada vez mais corpas e mentes sejam seduzidas pela “facilidade e praticidade”. Enquanto cedemos gentilmente nossos dados, informações sensíveis, direitos intelectuais e o mais importante, enquanto nos tornamos pessoas seduzidas a não pensar coletivamente sobre a importância da regulamentação para proteger empregos e proteger nossas mentes da fragilidade crescente em estarmos nos tornando pessoas cada vez menos capazes de conseguir construir relações humanas saudáveis presencialmente.
É importante lembrar que as relações humanas, geram, há milênios, a construção de habilidades sociais e culturais essenciais para a vida em sociedade e para resistência a sistemas autoritários.
Essa automação desenfreada, a inteligência artificial e a plataformização digital reproduz desigualdades seculares, rouba propriedades intelectuais, acelera a crise climática e não tem feito a classe trabalhadora e pobre trabalhar menos. Pelo contrário, a automação e a inteligência artificial tem diminuído, e muito, a renda das famílias periféricas. Tem gerado insegurança para o futuro de jovens, que muitas vezes não se vêem motivades a aprofundar estudos em áreas de atuação que são ameaçadas constantemente pela substituição digital que dizem que “vem por aí” e que “não tem volta”.
Essa semana você já deve ter recebido um vídeo qualquer sobre como aprender a nova forma de trabalho revolucionária, que vai te fazer enriquecer ser sair de casa e sem ter que conviver com pessoas. Lembra?
Pode parecer teoria da conspiração, mas é uma triste realidade. Vários dos bilionários americanos acreditam no transhumanismo, conceito para o qual o humano está em processo de superação do humano atual, para o alcance de uma transcendência, uma superação da criação de Deus através da tecnologia criada por bilionários.
Ellon Musk, CEO da Tesla, é um dos que crêem nessa teoria. Essa “transcendência” idealizada por esses bilionários, segue a preceitos coloniais e eugenistas e por isso corpas racializadas, mulheres, povos originários são e serão descartados como a branquitude tanto tentou no século 18 e 19.
Não à toa a grande briga dos países poderosos como os Estados Unidos é combater a regulamentação de ferramentas digitais. Esses “nobres senhores” trabalham para acabar com a soberania dos territórios periféricos por dentro, via influência através das redes e das “novas tecnologias”. Nessa era do capitalismo, é preciso haver regulação e, além disso, precisamos ter soberania de dados, ou seja, nossos próprios bancos de dados nacionais.
É algo um tanto quanto macabro. Procure por aí no Google como a mais avançada inteligência artificial, o GROK, de Elon Musk, classificou Hitler e o nazismo e se preocupe aqui junto comigo se for possível. Em notícia recente, o GROK fez apologias diretas ao nazismo e a supremacia brankkka.
As inteligências artificiais mais avançadas e as grandes empresas de tecnologia tem donos que não estão pensando em ninguém além deles mesmos, no lucro e acúmulo de dinheiro, informação privilegiada e controle comportamental.
Vale a pena pensarmos coletivamente sobre o uso moderado e ético da IA, problematizar a automação desenfreada e pensar em como governos e sociedades de países do Sul Global precisarão se debruçar com cuidado sobre a criação de bancos de dados soberanos, proteção de dados e de empregos. Legislações diversas que podem ser articuladas para proteger as novas gerações de uma pandemia de desigualdade social, de agravamento da violência e de reprodução generalizada e normalizada de opressões históricas, como racismo, xenofobia, machismo, lgbtqiapn+fobia, capacitismo, etc.
Importante que você saiba, que segundo matéria recente da TAB UOL, atualmente, no “Brasil”, mais de 12 milhões de pessoas têm usado a inteligência artificial para apoio psicológico. Ou seja, o que pode estar acontecendo é que uma pessoa que passa por diversos problemas pessoais e sociais, agravados pela solidão e pelo uso impensado de redes sociais, chega a recorrer por ferramentas digitais que podem e provavelmente vão piorar sua condição, enquanto privam essa pessoa de qualquer convívio saudável com pessoas de carne e osso.
Em suma: eles vendem o problema e a “solução”. Isso não é teoria ou conspiração. Isso já está acontecendo.
Como eu disse no início desse texto, não tenho a pretensão de esgotar esse assunto, mas escrevo para me indignar e ressaltar a urgência de regulamentação das redes sociais. A urgência de dialogarmos sobre uso responsável, para que possamos refletir sobre como o capitalismo atual vem nos privando de direitos básicos como a convivência saudável, emprego e saúde mental.
O campo da esquerda e do progressismo “brasileiro” não vem discutindo isso de forma ampla ou aprofundada. Muitas das lideranças inclusive caem no discurso fácil do “futuro inevitável”.
A falsa praticidade aponta para algo mais complexo e profundo. Aponta para um capitalismo que quer te privar de ter casa, água, saúde mental, privacidade de dados e que quer te privar de uma real autonomia para fazer suas decisões, sejam de compra e de vida.
Quando você for usar uma ferramenta de inteligência artificial, quando for usar da facilidade da automação ou quando for pedir algo pelo aplicativo, lembre que grande parte dessas tecnologias são, na verdade, velhas ferramentas coloniais que visam gerar lucro, exploração e o acúmulo de dinheiro na mão de poucas pessoas endinheiradas e encasteladas em ar condicionado. Provavelmente pessoas de fora do seu território mãe. Isso é colonialismo digital!
Estamos em guerra. Precisamos pensar e agir sobre essa trincheira! Sua filha, sua sobrinha e seus descendentes diretos terão empregos e direitos garantidos se seguirmos teclando e cedendo nossos dados sem pensar?
Saravá as mudanças!
Este é um conteúdo opinativo. O Desenrola e Não Me Enrola não modifica os conteúdos de seus colaboradores colunistas.