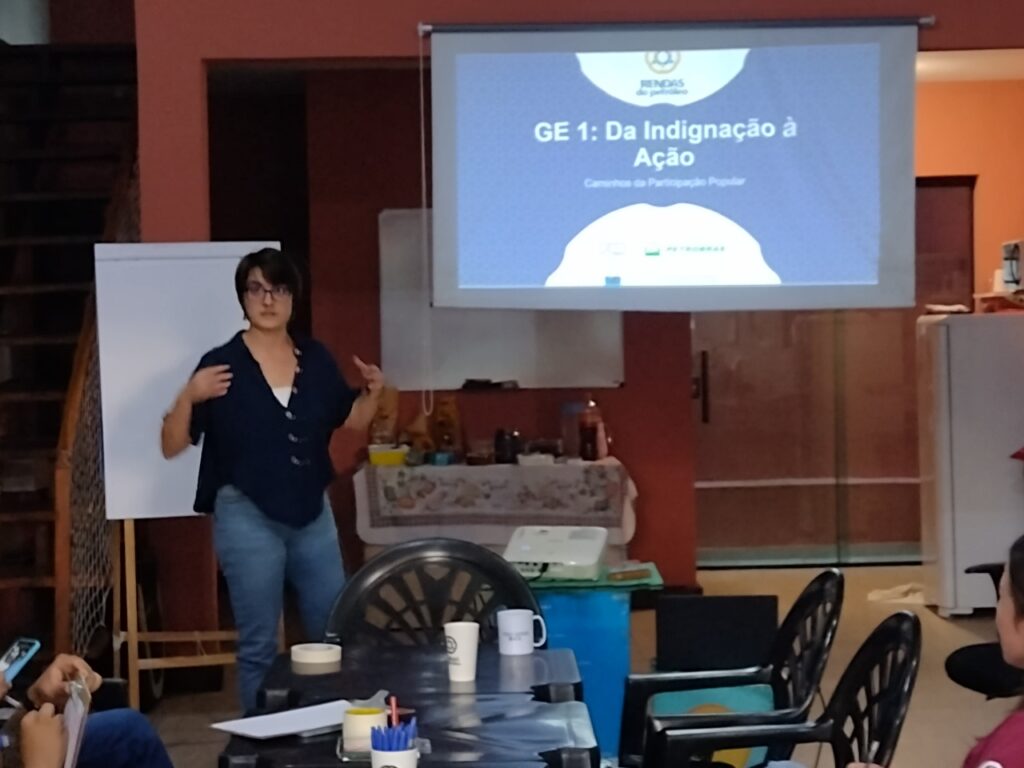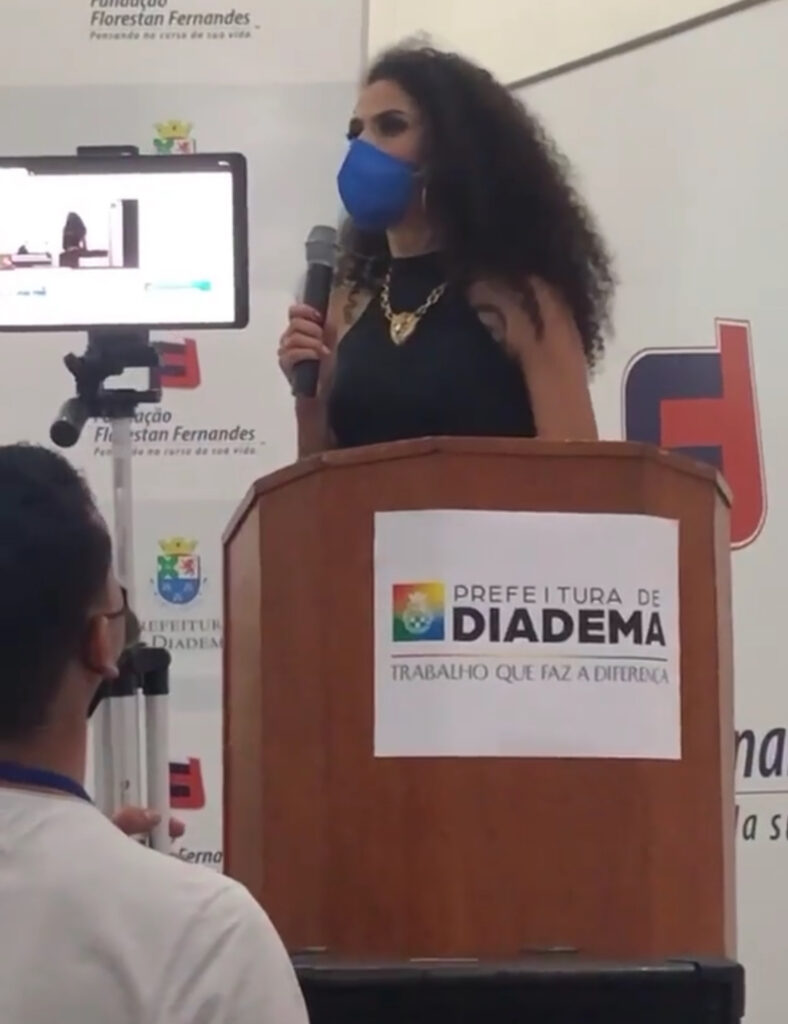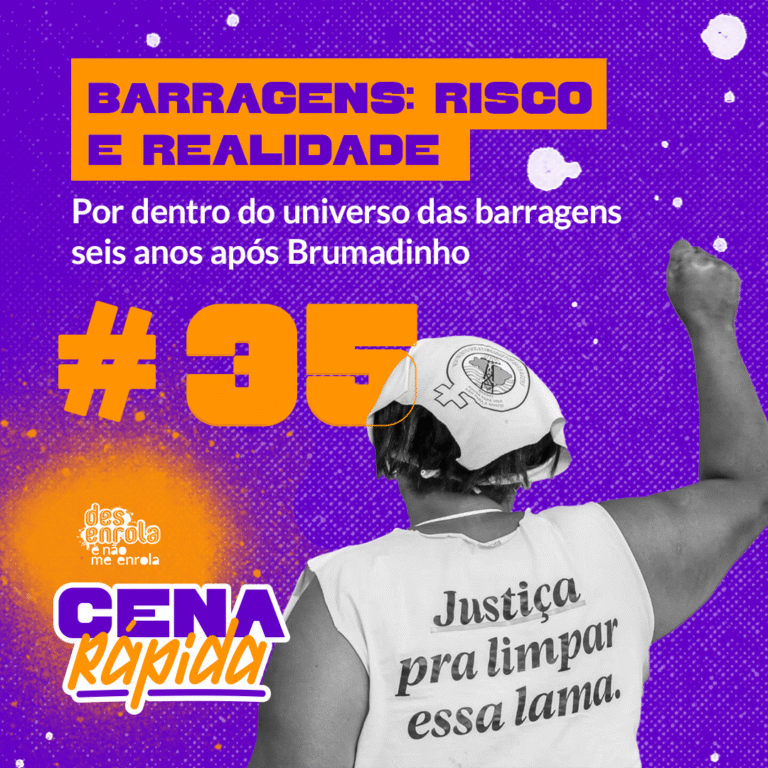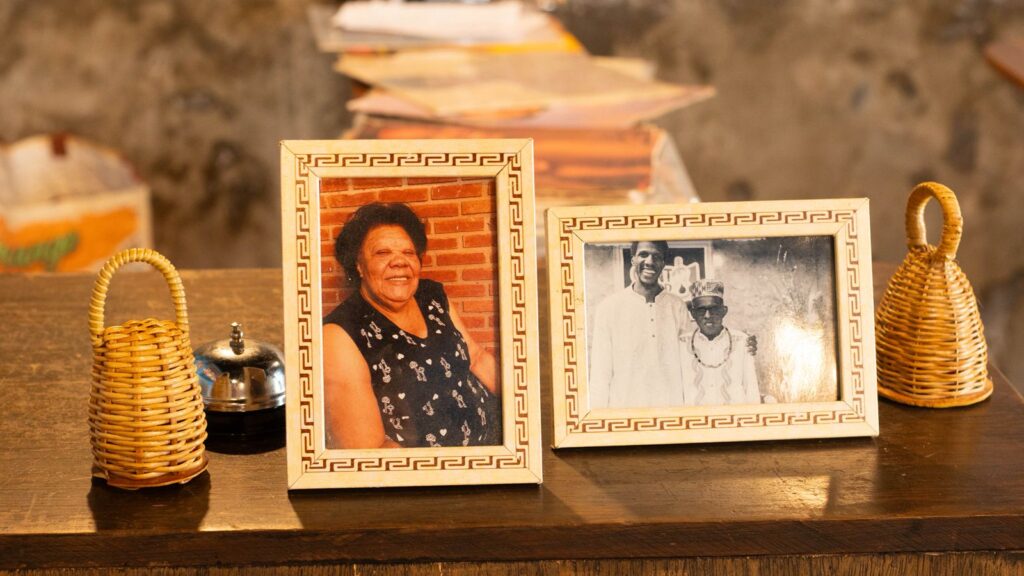“Foi bem desafiador não mexer no celular, porque é algo que hoje em dia a gente não consegue viver sem”, é assim que Larissa Gomes (nome fictício), 18, avalia os primeiros meses da Lei 15.100/25, que restringe o uso de aparelhos eletrônicos em espaços públicos e privados de educação. Moradora do bairro Jardim São Bernardo, no Grajaú, zona sul de São Paulo, ela estuda na Escola Estadual Afrânio de Oliveira, que faz parte da rede pública de ensino, localizada na mesma região em que mora.
Em vigor desde o início do ano letivo de 2025, em São Paulo, a Lei Estadual 18.058/2024, detalha que, os estudantes que escolherem levar seus celulares para as escolas deverão deixá-los armazenados, sem acessá-los durante o período de permanência na unidade escolar. A exceção se dá para casos específicos, como uso para fins pedagógicos, alunos com deficiência ou alguma condição de saúde.
Larissa conta que as primeiras semanas foram bem rígidas, que não pegavam no celular, “mas hoje em dia alguns alunos nem ligam mais e, às vezes, mexem mesmo tendo a orientação dos professores de que não devem usar”, compartilha a estudante que cursa o terceiro ano do ensino médio, que se se coloca a favor da lei, mas diz não ter notado grandes diferenças em sala de aula.
“Alguns alunos prestam mais atenção nas explicações dos conteúdos, mas já vi também muita gente pegando no celular mesmo não podendo. Até mesmo em determinadas aulas, o celular precisa ser usado para fazer a atividade, porque não tem aparelho suficiente na escola para todos”, conta ao citar pontos de contradição quando se trata do acesso a outros recursos de ensino na escola.
“Na minha escola tem laboratório e sala de informática, mas às vezes não tem tantos computadores e tablets para todos os alunos. Às vezes os professores deixam [de explicar a lição em classe] para poder passar lição com o uso da plataforma, como a ‘sala do futuro’.”
Larissa Gomes da Silva, 18, estuda na Escola Estadual Afrânio de Oliveira e mora no Jardim São Bernardo, Grajaú, zona sul de São Paulo.
A estudante Rafaela Oliveira (nome fictício), 18, destaca situações parecidas com as mencionadas por Larissa, e fala sobre a necessidade de escuta dos alunos e professores ao se implementar uma lei que muda a dinâmica escolar. “Na minha escola não tem laboratório. A gente tem uma sala que não era para isso, mas agora eles modificaram e mesmo assim, não tem computadores para todo mundo”, conta Rafaela, que é aluna do terceiro ano de uma escola da rede pública estadual na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo.
Dados do Censo Escolar de 2023 (INEP, 2024), sistematizados no estudo Panorama da qualidade da Internet nas escolas públicas brasileiras, revelam que o Brasil tem 137.208 escolas públicas, somando as redes estaduais e municipais. Desse total, 121.416, o que equivale a 89%, disseram ter acesso à internet para uso geral e 85.039 escolas, ou seja, 62% do total, declararam ter acesso à internet com foco na aprendizagem.
Em 2023, 89% das escolas públicas informaram ter acesso à internet para uso geral, o que representa um aumento de 5% em relação a 2022. Porém, mesmo com esse avanço, a realidade ainda é desigual entre as regiões do país e dentro de cada região também existem diferenças. Na região Norte, por exemplo, há 20.279 escolas públicas — isso representa 14,8% do total de escolas públicas do Brasil. Dessas, 7.443 escolas, ou seja, 37%, disseram que não têm acesso à internet para uso geral.
Muitos alunos e poucos equipamentos é uma das demandas da escola, segundo Rafaela. “Quando precisamos fazer a Prova Paulista ou alguma outra prova que a escola inteira precisa fazer, a internet cai, muita gente não consegue realizar, o sistema dá erro. Tudo isso deixa a vida, de nós, alunos do terceiro ano, os vestibulandos, muito mais difícil”, afirma a estudante que é contra a proibição do celular na escola, por considerar que existem outras formas de melhorar o ensino.
“Eu trabalho, estudo e ainda sou vestibulanda. Não é meu caso, mas muitas pessoas que não têm acesso em casa [a internet], simplesmente não conseguem fazer [atividades]. Com o celular na sala de aula [como apoio] ficava muito mais fácil. A escola não tem computadores disponíveis para todo mundo, não tem tablets para todo mundo. Essa lei não foi pensada para as periferias”.
Rafaela Oliveira, 18, aluna da rede pública estadual de ensino e moradora da Brasilândia, zona norte de São Paulo.
Ela diz que o uso de celular é um problema dentro das salas de aula, “mas quando você fala em escolas da periferia, aplicar uma lei dessa [em uma] escola que não tem infraestrutura para receber [demanda tecnológica necessária], [é outra história]”.
Aplicação em escolas públicas e privadas
Na Escola Estadual Vila Socialista, localizada na Vila Conceição, em Diadema, região metropolitana de São Paulo, o professor de ciências, Jordan Alves, esperou algum tempo para entender como seria essa nova dinâmica. “No primeiro momento, achei algo positivo e interessante, mas logo pensei que algumas tecnologias que [costumava utilizar], já não seriam mais viáveis em sala de aula, devido os alunos não estarem com o celular”, conta.
Nos primeiros meses do ano, Jordan trabalhou em três escolas públicas. “Na Escola Socialista, onde estou atualmente, houve e há uma comunicação clara com as professoras em relação ao uso do celular. Inclusive, foi solicitado que nós mesmos, educadores, evitássemos o uso do aparelho. Os alunos realmente evitam. Quando precisam utilizar a orientação é que desçam e conversem com a coordenação”, explica ao contar que o formato tem funcionado na unidade, mas com ressalvas.
O professor diz que mesmo a lei permitindo o uso pedagógico do celular, na prática, isso quase não acontece em muitas escolas. “Eu até usava em atividades com jogos educativos, mas hoje evito para não gerar conflitos entre outros professores. Além disso, a estrutura das escolas públicas é muito precária. Onde [leciono], por exemplo, não há laboratório de ciências em funcionamento”, contextualiza Jordan.
“O Estado cobra resultados, mas ele mesmo não oferece condições e o professor da escola pública acaba tendo que fazer milagre, muitas vezes tirando do próprio bolso [para suprir as demandas].”
Jordan Alves, professor de ciências da rede pública estadual de ensino.
O educador, que atualmente dá aula para cinco turmas, com em média 30 alunos, conta que o perfil de cada estudante faz diferença na criação de procedimentos no ambiente escolar. Ele coloca como exemplo os alunos do 6° ano, que muitos não têm celular, diferente do ensino médio.
“Atuei com turmas dessa etapa em outra escola da região e mesmo com a coordenação informando e colocando avisos nas salas, a maioria dos alunos simplesmente ignoravam. A sensação era de um ‘território sem lei’. Isso mostra como o apoio da coordenação é fundamental. Apesar de ser uma lei federal, cabe a cada escola organizar sua aplicação e, nesta escola [com estudantes mais velhos], parecia que a norma sequer existia”, relembra.
Mesmo com uma rotina em curso na escola em que atua no momento, Jordan pontua que a desigualdade educacional entre os modelos de ensino não pode ser ignorada. Ele cita sobre escolas públicas localizadas em áreas centrais e escolas particulares que contam com equipes pedagógicas maiores e uma outra infraestrutura tecnológica.
Para ele, há limites a serem considerados. “Particularmente acho necessário que o aluno tenha o celular. Se ele precisa falar com o pai, com a mãe ou outro responsável, deve poder. Acredito sim que a comunicação rápida é essencial, ainda mais considerando o contexto de violência, de vulnerabilidade”, coloca.
Alguns quilômetros separam a escola Escola Estadual Vila Socialista do colégio particular que o Leandro Barros trabalha, localizada na região do Ipiranga, em São Paulo. Professor substituto de ciências, ele é responsável pelo laboratório da escola e conta que o uso de celular já era controlado antes da lei entrar em vigor.
Desde que começou a trabalhar no colégio, em 2023, os celulares já eram recolhidos no início do período e só utilizados em momentos específicos, como no intervalo. Com a nova regra, o acesso ficou mais restrito, mas segundo ele, sem gerar grandes impactos na dinâmica do colégio.
“Os professores pedem, voluntariamente, que os alunos coloquem os celulares dentro da caixa. Depois disso, os inspetores recolhem as caixas e as levam até a biblioteca, onde ficam guardadas durante todo o período. Cerca de cinco a dez minutos antes do sinal de saída, os aparelhos são devolvidos’’, detalha Leandro. Na escola, os inspetores distribuem caixas de madeira com divisórias específicas para guardar os celulares.
“Vejo que não são todos que guardam, mas eles também não mexem. Alguns não gostam de guardar na caixa, mas deixam na mochila, desligado. [Usam] por exemplo, só depois que bate o sinal, na hora da saída. Se algum estudante for visto utilizando o celular durante o intervalo, pode ser advertido”, frisa.
Leandro diz que a estrutura da escola favorece fazer valer a medida. “Por ser uma escola privada, trata-se de uma instituição com bastante estrutura. Temos o laboratório de ciências, que eu sou responsável, com experiências de química, física e biologia. São muitos os equipamentos”, conta o professor ao detalhar a estrutura que também inclui uma sala maker com notebooks, impressoras 3D e materiais para atividades de programação. Ele ressalta que quando os educadores precisam de algum material extra, é possível fazer a solicitação com antecedência e a escola providencia.
No contexto do ensino, o professor acredita que a medida, por si só, não resolve o problema da distração dos alunos em sala. Ele relata que após o endurecimento da regra, alguns estudantes passaram a levar câmeras digitais. “Só que a câmera também é uma distração. E não só a câmera, mas também jogos de baralho, etc. Ou seja, os alunos vão procurar outras formas de se distrair”, analisa.
Para Leandro, o uso pedagógico dos aparelhos eletrônicos pode ser benéfico no lugar de uma proibição rígida. “Já aconteceu de eu estar ensinando sobre astronomia e me perguntarem qual que era a maior estrela já descoberta. Falei que não sabia, mas que a Sirius era maior que o Sol. E sugeri [uma pesquisa]. O aluno pesquisou e trouxe a informação para sala”, exemplifica.
Nesse sentido, enquanto ferramenta de auxílio para o aprendizado, o celular ainda seria um caminho, segundo ele. “Se fosse nesse contexto de proibição, isso teria matado ali a curiosidade do aluno que quando chegasse em casa, provavelmente nem se lembraria mais disto”, pontua.