Quem já gravou um depoimento qualquer entrevistando pessoas periféricas talvez consiga reparar alguns dados dessa livre reflexão que vou propor aqui.
Há muito tempo que venho pensando sobre algumas características específicas do pensamento e do discurso periférico e da forma como em diferentes obras audiovisuais a montagem marca a construção discursiva do filme.
ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Cadastre seu e-mail e receba nossos informativos.
Para começar, talvez seja necessário fazer um preâmbulo acerca de uma intuição importante que penso ser central na forma de pensar dos sujeitos das quebradas. A não linearidade das reflexões, a descontinuidade das elaborações, que nos exigem, por vezes, uma rearticulação da fala para que faça sentido ao espectador no tempo do filme.
Depois de anos editando documentários e dando forma a diferentes diálogos com periféricos famosos e anônimos, percebo algumas questões do ponto de vista da descrição de situações, à questões do universo da ética e da própria expressão das pessoas que culturalmente vivem e/ou viveram a condição marcada pela precariedade e a potência das favelas e outras formas de fruição social. Fatores que marcam, a meu ver, a forma de construção narrativa de qualquer elaboração dos oriundos dessa realidade.
João Moreira Salles, Cristina Amaral, Eduardo Coutinho, Eduardo Escorel, entre outros grandes nomes do cinema nacional mainstream, já pontuaram algumas premissas gerais sobre a montagem de um filme documental, coisas como ‘a não neutralidade do montador’, ‘o reencontro do diretor com o processo do set na ilha’, ‘o diálogo e a reavaliação do que foi filmado’, entre outros, a nível internacional não podemos esquecer da grande contribuição para o que hoje chamamos de montagem dada pelo grande cineasta russo, Andrei Tarkóvski que, entre outras coisas, produziu o clássico “Esculpir o tempo”, onde o mesmo se debruça na maneira como sensações e a inflexão do diretor perante à realidade, exigem meditação e profundidade no ato de dar ritmo às imagens e sons.
Este escreveu:
“O tempo é um estado: a chama na qual vive a salamandra da alma humana” e “O artista existe porque o mundo não é perfeito… a arte nasce de um mundo mal projetado”.
O editor nesse sentido quase sempre é visto, no âmbito do cinema, como este que conserta o mundo mal projetado. Realidade que com a maturidade na profissão vamos percebendo que não é verdade.

Aproveito para deixar aqui, pra trazer algo que me impactou no set de gravação do doc ‘Videolência’, numa entrevista com Anderson Montanha do extinto “Filmagens Periféricas” o mesmo disse: “Vamos contar a história com as câmeras canetas, a nossa história”.
Talvez more nas entrelinhas destas duas reflexões, uma teoria de montagem do cinema periférico, principalmente do cinema documental periférico, uma forma de conceber o tratamento de discursos e narrativas que é ao mesmo tempo universal e por outro lado completamente particular.
Universal porque busca, quase sempre, o resultado do escultor descrito por Tarkóvski, extraindo do material bruto a forma desejada, a forma que fará sentido para o realizador e seu público. Particular porque não obedece, necessariamente, grandes acordos e normas pré concebidas de como fazer, ou dinamizar a linguagem de um filme. Vejo no método de montagem dos realizadores periféricos uma liberdade e uma capacidade de invenção muito particular.
Algo vivo que extrapola as formas tradicionais.
Acredito que isso acontece porque assim como em qualquer outro âmbito da vida de uma pessoa da periferia os meios ideais para se fazer a produção concreta da vida, nem sempre estão disponíveis, e isso passa desde uma gambiarra pra consertar o chuveiro, à aquisição de um computador ou câmera no âmbito audiovisual.
Mas isso já está saturadamente descrito, refletido e pensado, da cosmética da fome a diferentes teses, textos e artigos sobre o quanto nossa arte se adapta a precariedade, é importante pontuar aqui, porque de fato essas condições muitas vezes determinam processos que posteriormente são ressignificados como linguagem, por causa das inúmeras fraturas, cicatrizes e dificuldades orçamentárias que impactam o resultado final das gravações, quase que inevitavelmente.
Mas quero dar mais ênfase aqui ao tratamento do material bruto na montagem, começando pelo computador, a Ilha de edição.

Nenhum ser humano é uma ilha.
Admiro alguns editores do cenário periférico pelosinsights criativos, pelo estudo de linguagem e pela dinâmica de produção, mas admito que uma das maiores problemáticas de montagem é imaginar que a edição só começa na ilha, quando o tratamento principal da montagem é dado ainda na roteirização e na gravação, quando imaginamos a partir dos discursos os tipos de imagens de cobertura e as formas com as quais os depoimentos podem ter ligação em blocos temáticos ou não. Ou seja, o ser humano prescinde à máquina, a tal da ilha de edição.
Talvez você, leitor, que não é da área do cinema, esteja se perguntando que raios é uma ilha de edição. Explico, é um termo comumente convencionado pelo setor por conta da natureza do trabalho de montagem, muito minucioso e exigente quanto ao isolamento e atenção no computador.
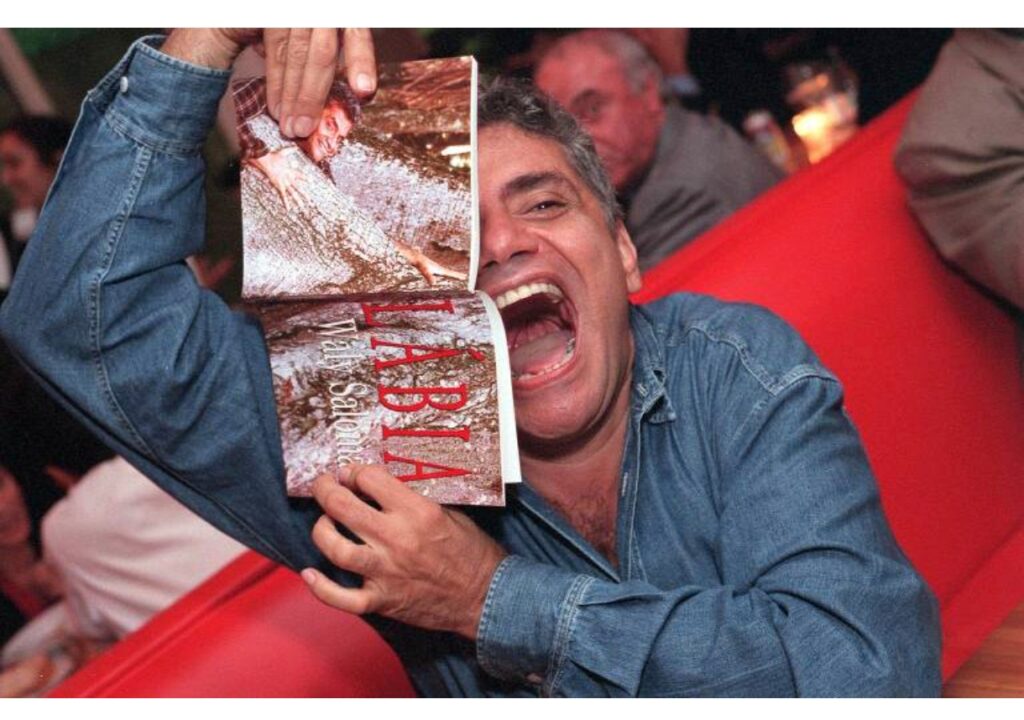
Dizem que pode ter origem no trecho do poema de Waly Salomão “A memória é uma ilha de edição”, trecho que amplia ainda mais o propósito da tarefa e traz a questão da memória pro centro da ação, pois toda vez que você vai de encontro com o material gravado, ou material bruto, como se costuma dizer, estamos automaticamente lidando com o passado, mesmo com as apresentações ao vivo e a edição nas mesas de corte em tempo real, é o passado que se mobiliza ali, a imagem que chega pelos cabos está sempre alguns segundos atrasada na ilha de edição, no estúdio ou no palco onde a transmissão ocorre, o que chega no YouTube ou outra plataforma para o público pode atrasar ainda mais, o famoso delay.
O mais comum é o trabalho com que foi gravado anteriormente, sejam dias, semanas ou anos. Tudo é questão de passado, de lidar com a energia de um set que já não existe mais, e que é rememorado na montagem. E a depender do quão distante é esse passado, tudo pode se recriar e se reinventar na lembrança. Daí a genialidade da frase de Waly.
Muitas vezes a dificuldade em se desprender de algum depoimento, por mais repetitivo ou mal elaborado, pode vir de uma memória, de acontecimentos fora do set com aquela pessoa entrevistada, com a recepção da pessoa, o acolhimento à equipe, sua forma de lidar com as circunstâncias da vida. Depois fica quase que como dívida, garantir a presença da pessoa no filme, mesmo que às vezes a fala não esteja ‘casando’ com a edição.
Dilemas da precariedade, dilemas da afetividade.
Nesse tipo de set tudo corre no entorno do relógio. Economizar tempo e maximizar resultados traz como consequência as tais marcas, cicatrizes já ditas que podem resultar num registro menos cuidadoso quanto à qualidade do áudio ou fotografia que se pretendia alcançar. Coisas que podem por vezes determinar ou não a presença de trechos ou de depoimentos inteiros no final, ou seja, dependendo de qual o estado do material captado, a direção e a edição (que por vezes é a mesma pessoa), tem apenas 3 opções:
1) usar as ferramentas de edição e finalização disponíveis para tratar os erros de captação e deixá-lo da forma mais viável dentro de uma linguagem padrão; 2) Avaliar o quão drástico é o problema do material bruto e decidir por eliminar por toda a parte que não corresponde minimamente aos requisitos básicos de leitura e audição do conteúdo; 3) Ajustar ou não o conteúdo e assumir suas marcas, as mantendo como são ou justificando como linguagem a forma daquele trecho ou dos trechos ao longo da narrativa.
Desta forma o montador vira também um recriador do material, redefinindo a utilidade ou a significação de sua visualidade, encontrando assim saídas novas e criativas para problemas estruturais, exercendo quase que involuntariamente uma metáfora de como lidamos com a estrutura capitalista, racista e patriarcal, gingando entre as marcas que a vida nos impõe.
Montando a vida na contramão

Editar, no contexto da produção periférica, é buscar novas referências de linguagem e narrativa contra-colonial, pontos de fuga à narrativa clássica eurocêntrica e anglo-saxão, do velho começo, meio e fim, propondo outras costuras menos lineares, porque não? Talvez um começo-meio-começo, como já dizia o mestre Nego Bispo. Ou uma narrativa espiral como o mito da cobra grande que atravessa mundos em diferentes momentos históricos, defendida pelos Guaranis. Ou ainda as narrativas orientais, migrantes e contrahegemonicas de modo geral. Em suma, experiências de vidas que compartilham histórias de opressão e comungam resistência artística como forma de expressão de outras possibilidades de existência. Forma essa que por vezes é repelida pela indústria audiovisual e por outras é aplaudida e fetichizada nos festivais mundo afora.
Entre a pura representação da precariedade e a genialidade de lidar com pouca estrutura e compensar a falta de recursos materiais com a superexploração de recursos filosóficos e linguísticos, é que vivem os montadores de imagens quebradas, costuradores de retalhos como foram suas avós.
E tem muito mais.
Por exemplo, como lidar com a franqueza de quem despe a alma em frente às câmeras e não faz a mínima ideia do impacto que a fala pode ter em sua própria vida? Qual o senso ético quando o instinto de denúncia casa com a proposta artística e o desejo de influir na realidade retratada?
Belchior pode nos ajudar a responder essa questão quando aponta em Como nossos pais que “qualquer canto é menor que a vida de qualquer pessoa”. Ou seja, o artista não tem o direito de sobrepor sua arte à vida das pessoas que busca retratar.
Logo, quando estamos montando um documentário periférico, muitas vezes temos que proteger nossos interlocutores deles mesmos, pois se foi a confiança e a conexão entre pares que colocou a pessoa vulnerável com seu discurso em frente nossas câmeras, deve ser nossa responsabilidade e traquejo social o condutor igualmente confiável de uma narrativa que, para além do filme, não coloque em risco a depoente, pois diferente da maioria dos editores dos filmes feitos pelos playboys que se aventuram em produzir documentários na periferia, nós vamos encontrar novamente as pessoas entrevistadas e os possíveis problemas que uma fala ou uma imagem mal colocada na narrativa podem acarretar para o cotidiano dela. Pois para alguns, a paisagem retratada é cenário, para outros é a própria vida.
É claro que esse senso moral, também não pode ser um escudo para deixar de debater temas sensíveis e processos complexos vividos por pessoas periféricas. Mas sim ser uma bússola que guia nossas histórias para o enfrentamento das opressões, sem repetir as opressões já vividas.

Enfim parece simples, mas não é, porém tudo que se faz realmente no coletivo, onde cada etapa é pactuada com quem participa do processo, tudo fica mais fácil, senão pelo menos mais real, mais funcional. A nossa linha do tempo é curta, raras são as longas estradas sem metragens, por isso não podemos perder tempo montando armadilhas contra nós mesmos, em tempos de edição rápida no celular, dip fake, AI, etc. Temos a difícil tarefa de usar tudo que estiver disponível para afirmar nosso ponto de vista, de classe, de raça e gênero. Se nada faz sentido, há muito o que fazer!
